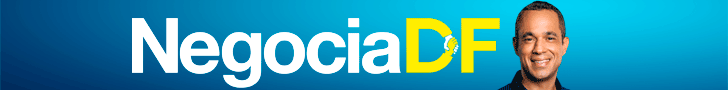Rodrigo Leão F. Nascimento, pós-doutor em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), escreveu este artigo para a plataforma The Conversation Brasil.
Imagine uma jovem brasileira que vai estudar na Espanha e começa a enfrentar dificuldades para dormir, crises de choro e uma sensação constante de ansiedade. Preocupada, ela busca ajuda psicológica e responde a questionários que avaliam sintomas de ansiedade e depressão.
Mas as perguntas, que foram criadas em outra cultura, conseguem realmente captar o que ela sente? Essa questão é essencial para entendermos como funcionam avaliações internacionais que comparam o nível de ansiedade entre diferentes países.
Essas reflexões são importantes, principalmente diante do aumento mundial dos transtornos mentais, agravados pela pandemia de Covid-19. O Relatório Mundial de Saúde Mental aponta que mulheres e jovens adultos são os grupos mais afetados. Por isso, é fundamental que os métodos de avaliação sejam precisos e comparáveis.
Origem dos questionários
A definição dos transtornos de ansiedade e depressão evoluiu muito ao longo do tempo, com referência principal no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria (APA). Esse manual divide os transtornos em vários tipos.
Transtornos depressivos se caracterizam por humor triste, vazio ou irritável e sintomas físicos e cognitivos, com o Transtorno Depressivo Maior destacado por durar pelo menos duas semanas e causar impacto nas atividades diárias.
Os transtornos de ansiedade envolvem medo exagerado, preocupação constante e sintomas físicos como palpitações e sudorese.
Baseando-se nesses critérios, o psiquiatra Aaron Beck criou dois questionários amplamente usados: o Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), com 21 perguntas cada, disponíveis em várias línguas. Apesar de sua utilidade, é importante saber se eles são verdadeiramente comparáveis entre diferentes culturas.
Adaptação e avaliação dos questionários
Para utilizar um instrumento psicológico em outro país, não basta traduzir as perguntas. É necessário garantir que o questionário medirá os sintomas da mesma forma em culturas distintas.
Manifestações como tristeza profunda, irritabilidade e alterações no sono podem ser interpretadas de maneira diferente dependendo do contexto cultural, e algumas perguntas podem ter diferentes pesos. A adaptação do instrumento envolve processos rigorosos e avaliações contínuas.
Em minha pesquisa de doutorado na PUC-Rio, concluída em 2025 e com apoio da FAPERJ, junto a colaboradores de Portugal e Espanha, avaliamos como esses questionários funcionam com universitários do Brasil, Portugal e Espanha.
Analisamos a estrutura interna dos instrumentos, que no caso da depressão (BDI-II) mostrou dois fatores: sintomas cognitivos (pessimismo, falta de concentração) e sintomas físicos e emocionais (fadiga, alterações no sono e no apetite).
Já o BAI (ansiedade) é conhecido por distinguir ansiedade de sintomas depressivos, mas seus fatores ainda são objeto de estudo. Enquanto muitos defendem dois grupos principais — sintomas físicos e emocionais —, outros apontam para diferentes estruturas, e palavras específicas podem ser interpretadas de modo distinto, principalmente em espanhol.
Além da estrutura, avaliamos a invariância de medição, teste que verifica se as perguntas têm o mesmo significado estatístico entre países. Isso é fundamental para comparações internacionais confiáveis.
Descobertas
Nosso estudo mostrou que o questionário de depressão (BDI-II) foi equivalente nas três populações, apesar de variações em itens como interesse sexual, sentimento de culpa e pensamentos sobre morte, sem afetar o resultado geral.
A estrutura dos dois fatores foi consistente, indicando que o BDI-II pode ser usado com segurança para comparar níveis de depressão entre brasileiros, portugueses e espanhóis.
Porém, o aparelho que mede ansiedade (BAI) não apresentou equivalência. Perguntas ligadas a medo de morrer ou dificuldade de relaxar mostraram diferenças marcantes entre países, indicando que a ansiedade pode ser vivida ou percebida de formas culturais distintas.
O ajuste estatístico do modelo de ansiedade não foi satisfatório, sinalizando que o BAI pode não medir o mesmo fenômeno em todos os grupos, e que comparações internacionais devem ser feitas com cuidado.
Implicações e caminhos futuros
Esses resultados têm impacto na clínica, na pesquisa e nas políticas de saúde mental. No exemplo da jovem brasileira na Espanha, considerar o contexto cultural é vital para um diagnóstico correto.
Dado o aumento global das migrações e a maior vulnerabilidade desses grupos a transtornos mentais, é essencial que os instrumentos sejam culturalmente apropriados para evitar subestimação ou superestimação dos sintomas em migrantes.
A falta de estudos sobre invariância pode levar a conclusões incorretas, especialmente em transtornos influenciados por fatores genéticos, sociais, econômicos e culturais.
Investigar a equivalência dos instrumentos ajuda a entender melhor as manifestações culturais dos transtornos mentais no mundo e a elaborar políticas públicas mais eficazes.
Ferramentas de avaliação rigorosas contribuem diretamente para melhores políticas de prevenção e monitoramento da saúde mental, promovendo qualidade de vida a todas as populações, independentemente de suas fronteiras.